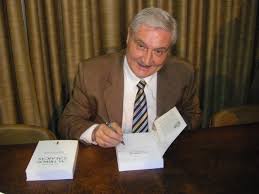Por José Manuel Barbosa
A
definição de Nação tem dado muitas páginas nos livros de teoria
política e mesmo nos livros de antropologia. É por isso por que há
duas formas de perceber a ideia de Nação: a política que nos
descobre um conceito de Nação próximo a ideia de Estado, daí a
noção de Estado-Nação e vinculada à vontade; e a cultural, que
nos leva a Nação constituída por um conjunto de pessoas com uma
língua, uma tradição, uns usos culturais e hábitos psicológicos
comuns, uns costumes manifestados na forma de perceber a vida tanto
no laboral como no festivo, nas crenças ou na herança e numa
história que une aos seus nacionais num determinado território
reconhecido como próprio. Estas duas formas de perceber o que é uma
Nação podemos identificá-las como da escola francesa, a primeira,
e a escola alemã a segunda. Na primeira é a vontade dos indivíduos
de construir a Nação que se comprometem numas instituições comuns
que regulam a sua convivência. Esta vontade surge da sua livre
eleição à hora de se constituírem ou bem pela sua separação
duma entidade estatal já existente enquanto a segunda é o conceito
de Nação objetiva baseada numa realidade viva localizada acima dos
indivíduos e das vontades cuja identidade está sustentada em traços
externos herdados duns antepassados comuns. Dessa realidade não é
possível evadir-se por meio da vontade.

Se
tomamos a primeira como referência, diremos que Portugal é uma
Nação porque a vontade fez que fosse independente da Galiza
medieval, porque os portugueses assim o quiseram durante mais de
oitocentos anos desde a sua independência levada a cabo por Afonso
Henriques. Da mesma maneira, a Galiza faria parte duma entidade
político-administrativa superior denominada Reino da Espanha e à
qual adere por inércia histórica.
Mas
se tivermos em conta o segundo conceito, a Galiza e Portugal fariam
parte duma mesma Nação segundo os critérios de Fichte. Segundo
eles tanto galegos como portugueses participam de uma série de
elementos identitários comuns que os unem por cima de quaisquer
diferenças políticas ou individuais. Podemos dar-lhe um repasse:
A
identidade da língua, considerada como uma única língua comum a
galegos e portugueses pode vir identificada tanto do ponto de vista
estritamente linguística como do ponto de vista político.
Se
for a linguística a que determinasse a unidade da língua não
teríamos ninguém que acreditasse na existência de duas línguas no
ocidente peninsular ibérica. Tudo o que for identificado como
diferença seria localizado como uma variação dialetal e/ou
regional. Galegos e portugueses temos uma mesma língua sem qualquer
dúvida e não há cientista que tenha a categoria para o negar.
Rodrigues Lapa, Eugen Coseriu, Carolina Michäelis de Vasconcelos,
Joan Coromines e todos os grandes vultos da filologia e da
linguística reconheceram a realidade duma e única língua galega em
origem e mas conhecida internacionalmente com o nome de português.

Há
quem pense que nas últimas décadas a vontade dos galegos e das suas
instituições é a de reconhecer a sua variante como uma língua
“irmá pero diferente” da portuguesa mas essa vontade surge da
necessidade de Madrid de desidentificar e separar ambas as variantes
para favorecer a assimilação do chamado galego dentro do castelhano
como um patois ou crioulo que pela sua debilidade e falta de
prestígio não possa concorrer com a língua de imposição. E como
já vimos que a vontade não é uma forma de conceber a Nação
cultural mas o Estado-Nação, não devemos considerá-la. Ainda
assim é de reconhecer que mesmo alguns dos personagens políticos
mais importantes da separação linguística galego-portuguesa como
o próprio Manuel Fraga Iribarne, Presidente da Galiza entre 1990 e
2005 reconheciam e falavam duma língua comum:
“É um encontro a que nos chama a pertença
geográfica a um mesmo espaço físico, a herança cultural de uma
língua comum e um património cultural multissecular,….”
(Fraga Iribarne: 1991)
A
pesar disto ser assim, o velho político franquista dizia o mesmo
pelas mesmas épocas mas para um público diferente:
“É un encontro a que nos chama a pertenza
xeográfica a un mesmo espazo físico, a herdanza cultural de
línguas com raices comuns e un património cultural
multisecular,...” (Fraga Iribarne: 1992)
A
dia de hoje, o próprio e atual Presidente da “Xunta de Galicia”
Alberto Nuñez Feijóo/Alberte Nunes Feijó manifesta o mesmo
critério de unidade linguística galego-portuguesa nas Tv espanholas
uma vez o movimento reintegracionista tem a suficiente força social
como para pôr as cousas no seu lugar (1)
Quando
de um galego se diz que numa escada não se sabe se é que sobe ou é
que baixa, é um castelhano que o diz. Um galego sempre sabe se sobre
ou se baixa mas um castelhano desde fora nunca é que o sabe. Isto
não tem maior transcendência se não fosse que a indefinição é
um elemento identificativo de galegos mas também de portugueses; a
ambiguidade, a diplomacia, a forma de dizer as cousas indiretas, as
meias verdades, a “retranca”, esse humor no que nunca se diz o
que se quer destacar mas que sempre fica evidente para as mentes
inteligentes nada abundantes no centro peninsular…
É aquela
história na que uma pessoa lhe faz uma pergunta comprometida ao
galego e este responde:
“Por uma parte, tu já vês, por outra….que
queres que che diga mas o certo é que… quem sabe?”
Falamos
igualmente do acordo e do trasacordo, essas variações de rumo que
aplicamos quando a necessidade o requer perante uma decisão que
temos de tomar mas que não temos toda a segurança. É o um “se
por acaso...”, “Se calhar...”, “Nunca se sabe...”. Os
nossos refrões fazem-nos visualizar essa caraterística psicológica:
“Deus
é bom e o demo não é mau”
“Porque
a Deus apreces, o demo não desprezes”
Mas
sobre todos os elementos do nosso caráter comum está a saudade,
cantada por poetas e descrita por filósofos. É uma forma de
perceber a vida galega e portuguesa por excelência mas que inclui
uma visão da vida romântica, lírica, poética e profundamente
artística. Por isso é que a poesia lírica medieval faz parte da
nossa identidade mais profunda.
Com
certeza que se falo da submissão ao sobrenatural, à religiosidade
profunda manifestada num conceito do transcendente que ultrapassa os
sentidos e a razão, estou a falar da forma de ser dos portugueses.
Mas também falo dos galegos que na sua festa da sua virgem, da sua
santa ou santo, da sua romaria ao seu santuário, da festa da sua
aldeia na que celebramos que esta divindade pré-cristão
transformada em tal ou qual virgem nos faz comer a todos em família
ou em comunidade. É a comida na que há que comer basicamente porco
ou vitela como forma de manifestar a alegria comum.

Em
Castela e em Andaluzia têm por costume beber vinho e bailar mas não
não bebemos nem bailamos enquanto não tenhamos a barriga cheia. Só
isso, prémio ao nosso trabalho do dia-a-dia, é o que nos põe
contentes perante os demais: comer, e comer comida forte,
hipo-calórica, poderosa, que mantém corpos que devem ser fortes
porque historicamente é a terra a quem lhe devemos o esforço para
que ela nos dê frutos. Para além disso, as filhós, as rabanadas ou
torradas, os roscões ou pães de ló, as sopas de cavalo cansado, os
cozidos, o polvo, o caldo, todo tipo de enchidos, presuntos, broas,
pães de centeio, papas, etc…são as formas dos nossos alimentos
que reconhecemos em ambas as beiras da raia…
Por
outra parte, a cultura histórica também vincula com as crenças de
galegos e portugueses de hoje. Somos a terra do granito que suportou
antas, mamoas, pedras escritas, montes sagrados onde habitam ainda
hoje as divindades esquecidas que um dia estavam nas nossas vidas e
hoje dormem até que decidam acordar. Mouros, princesas com pés de
cabra, cobras que acabam sendo princesas, seres feéricos de todo
tipo e tamanho, seres mitológicos que vivem nos contos infantis mas
também nas nossas vidas quotidianas, o não varrer para fora, o
arco-íris que é o arco-da-velha porque a velha é a Terra que nos
deu vida e é a matriz de todo, as nossas festas que cobrem todo o
panorama festivo céltico: Magusto/Samhain, festa dos mortos onde
estes vêm comer à nossas mesas, Ciclo de Natal/Solstício de
inverno, quando celebramos o nascimento da luz; Carnaval e
Candelária/Imbolc quando casam os passarinhos mas também crítica
ao poder; Máias ou Máios/Beltaine quando com lume queimamos o
boneco verde e chega o verão; São João/Solstício de verão quando
celebramos o triunfo da luz por meio do fogo purificador…..

As
bruxas e meigas, o Além, a morte, os que veem o futuro, Todo isso e
muito mais somos os galegos e os portugueses e não nos reconhecemos
como unidade porque desde há bem poucos anos o direito ao ensino faz
que sejam os Estados-Nação os que transmitam a cultura e a educação
mas essa não é natural mas artificial qual comida de lata ou
hambúrguer de McDonals. Esse direito não é o mau, que é um
direito, mas é o Estado que desrespeita os povos e as suas raízes o
que não é o adequado para nos transmitir os conhecimentos do
passado. Aos galegos dizem-nos que somos espanhóis que traduzido à
linguagem madrilena é como dizer que somos castelhanos e portanto
temos uma visão distorcida de nós próprios; aos portugueses diz-se
que os galegos são mais uns espanhóis que falam castelhano e
portanto uns maus irmãos não escolhidos mas não uns amigos que
podemos escolher…. A distorção acrescenta-se aos olhos dos outros
nós-próprios. E por isso chegamos à conclusão de que já não
somos o mesmo povo, mas dous povos de costas viradas cujos problemas
não devemos nem queremos partilhar.
Sobre
o espaço comum que partilhamos sabemos que a nossa cultura nasceu no
País do granito, nas terras rochosas do noroeste, terras verdes de
prados e florestas onde o chamado Maciço Galaico-Duriense se
apresenta como uma continuação do Cordal Cantábrico. É na Serra
do Aire onde estas terras célticas deixas lugar às terras do sul
estremenho, alentejano e algarvio que por tradição humana está
mais vinculada ao mundo sulista do que ao mundo galaico nortenho mas
que a história quis que se cristianizassem e se galaiquizassem. É o
Portugal sulista que embora conservar um ar e uma tradição
meridional e andaluzi o seu espírito é plenamente português. Mas
isto é uma visão que temos de hoje porque em épocas anteriores ao
Islão peninsular essas terras eram as que viram nascer o Vaso
Campaniforme, o que viu nascer o megalitismo que tanta identidade nos
dá aos galegos. Foram aliás, as terras da expansão sueva cujo
Reino foi conhecido e reconhecido como o primeiro “Gallaeciense
Regnum”. Todo isto conforma essa faixa marítima ocidental que vai
dar a esse mar imenso e promissor chamado Atlântico, o Mar da
Atlântida, o qual lhe deu viabilidade a Portugal como Nação e
ajudou na expansão da nossa língua e da nossa cultura. Castelão, o
nosso grande Daniel Castelão, disse uma vez no seu Sempre em Galiza,
que Portugal encheu o mundo de nomes galegos… e assim foi, com
certeza, ou pelo menos assim o vemos muitos galegos. E é esse mar o
que dá tamanho de País grande a Portugal cujo espaço terrestre é
um, mas o seu espaço marítimo sempre foi muito mais.

À
Galiza esse mar também lhe deu expansão mas não territorial embora
sim económica. É o mar das nossas riquezas e das nossas belezas, de
ondas selvagens e de profundezas misteriosas que converteu à Galiza
quando aqui se podia pescar, na terceira grande potência pesqueira
do mundo. É o mar da Galiza marinheira, tão importante para a nossa
realidade identitária como pode ser para Portugal.
Neste
tema já há pouca discrepância. Desde que os galaicos entram na
História, os portugueses entram como galaicos num princípio, embora
os lusitanos existam como uma prolongação dos primeiros ou
vice-versa. Se considerarmos que o Portugal de hoje é um Estado
galaico, e não lusitano por ter sido do norte galaico donde partiu a
origem do país, a língua, a estrutura e organização territorial,
a legalidade e todo o demais, teremos que partilhamos historicamente
tudo: a Kalláikia céltica, a Gallaecia pré-romana, o Reino da
Galiza medieval mal identificado e mal chamado de Reino de Astúrias,
a continuação do Reino da Galiza também mal identificado e mal
chamado de Reino de Leão… tudo, até que nasceu o conceito de
Nação que se diz defendeu o nacionalismo francês e também
Giuseppe Mazzini mas que já no século XII Afonso Henriques se viu
na obriga de exercer para defender o seu direito a governar o seu
novo Reino, assim reconhecido pelo Papa. Nasceu Portugal dum retalho
da Galiza e nasceu como um ato de vontade política mas não como uma
diferenciação étnica. Tal é assim que Agostinho da Silva,
ideólogo da Lusofonia disse que “os portugueses são uns galegos
aperfeiçoados”. Se é assim é que os galegos somos uns
portugueses distorcidos por Castela mas não deixamos de ser mais uns
portugueses descarrilados que precisamos nos encontrarmos com o resto
da nossa gente para nos vermos onde devemos estar: juntos.

Poderíamos
continuar narrando e debulhando esta nossa realidade comum, mas veja
o leitor que se fizermos pormenorizadamente este trabalho de
identificação galaico-portuguesa não chegaria um simples artigo
para falarmos do tema. Um livro completo falando de cada um dos
pormenores aqui narrados seria muito interessante e muito laborioso
mas completamente útil para o nosso reconhecimento e a boa fé que
totalmente certeiro na nossa auto-identificação não como dous
povos mas como um só.
Como
pode comprovar o leitor, a nossa vontade não é tanto narrar esta
realidade assumida e conhecida por toda mente bem pensante quanto
comunicar a necessidade de nos implicarmos no ser comum. Não pode
haver português que ignore a Galiza, a sua realidade e a sua
problemática como também não pode haver galego que ignore a de
Portugal.
Bibliografia:
Fraga
Iribarne, M: A Galiza e Portugal no Marco
Europeu. Ed. Xunta de Galiza. 1991. Pag. 7 Tirado da
Comunicação de Manuel Fraga Iribarne à Academia da História de
Portugal com motivo da sua receção como Académico de Mérito.
Lisboa 25 de Janeiro de 1991
Fraga Iribarne, M:
Jornal do Arco Atlântico.
23 de Outubro de 1992. nº 1 Página 3
Linkografia: